CPI DA PANDEMIA: Médico da Fiocruz diz que se governo tivesse agido melhor já teríamos uma produção nacional de vacina contra o covid-19
Cláudio Maierovitch foi o segundo a falar aos senadores
(Brasília-DF, 11/06/2021) A CPI da Pandemia no Senado se reuniu nesta sexta-feira, 11, para ouvir a microbiologista Natália Pasternak e o médico da Fiocruz, Cláudio Maierovitch. O médico da Fiocruz fez uma longa fala inicial ao senadores em que falou os diversos erros de ação e planejamento do Governo Federal e das autoridades de saúde para fazer o enfrentamento da covid-19. Um dos pontos altos foi na questão da política de imunização. Ele entende que se o Governo tivesse focado mais teríamos tido condição de gerar uma resposta mais rápida com um vacina brasileira mais rapidamente implementada.
“Certamente o cenário teria sido muito diferente se houvesse uma política oficial não apenas de busca da compra de imunizantes, mas de busca de articulações e de acordos para a produção nacional. Certamente o Instituto Butantan poderia ter agido mais rápido e com mais pujança, com uma produção mais relevante e possivelmente até mesmo acelerando os seus estudos.”, disse.
Veja a íntegra da fala inicial
Agradeço muito o convite por estar aqui.
Agradeço particularmente ao Senador Humberto Costa, ao Senador Randolfe, ao Senador Renan, autores dos convites. Espero poder trazer alguma contribuição para o debate e especialmente para as discussões e para as investigações realizadas por esta Comissão.
Bom, meu nome é Cláudio, como todos sabem, trabalho aqui na Fiocruz de Brasília, minha formação original é como médico. Eu fiz o curso, residência e mestrado na Universidade de São Paulo e especialização em Administração Hospitalar em Serviço de Saúde na Fundação Getúlio Vargas, em convênio com o Hospital das Clínicas.
Desde então, sou servidor público, inicialmente servidor público do Estado de São Paulo, como médico sanitarista, servidor do Município de Santos, como médico – médico clínico, no caso –, e depois entrei para a carreira federal de especialista em política pública e gestão governamental, carreira essa em que me encontro até hoje. Ao longo dela, trabalhei na Anvisa, trabalhei no Ministério da Saúde e agora na Fundação Oswaldo Cruz, aqui de Brasília. E é sob essa ótica que eu queria olhar um pouco para a questão, sob a ótica da gestão pública, sob a ótica da política governamental – não apenas da política sensu lato, mas específica, pensando no planejamento envolvido em toda essa crise que a gente vive. Eventualmente, depois, a gente entra em detalhes mais específicos.
Apenas para trazer uma ilustração, no ano de 2019, houve um estudo feito pela Universidade Johns Hopkins em que o Brasil era o 22º país num índice chamado Índice Global de Segurança em Saúde, que avalia diferentes dimensões da preparação e da organização do país para responder a possíveis ameaças à saúde pública. Naquele momento, os Estados Unidos ocupavam o primeiro lugar nesse índice; e a China, o 41º lugar, ou seja, 19 posições abaixo do Brasil. O Brasil, nesse mesmo estudo, ocupava o nono lugar no mundo, entre 195 países, no quesito resposta rápida ao alastramento de epidemias e mitigação.
Já um outro estudo realizado no ano passado – um ano depois, aproximadamente –, um estudo australiano situava o Brasil em último lugar na resposta à pandemia, 98º, para ser mais preciso, entre os países estudados; Estados Unidos, em 94º. O Brasil e os Estados Unidos, então, estavam juntos num conjunto de países com lideranças negacionistas, naquela definição que a Natalia apresentou agora, e que resistiram à imposição de medidas de contenção da epidemia, ao lado de Donald Trump, ao lado inicialmente de Boris Johnson, Alexander Lukashenko, que dizia que vodca e sauna poderiam resolver a epidemia. E, neste período, vários desses líderes foram revendo suas posições. Um exemplo mais conhecido, eu acredito, era o Primeiro-Ministro do Reino Unido, o Boris Johnson, que inicialmente falava do isolamento vertical, da necessidade de que o vírus se espalhasse, para que a população ficasse imunizada e que as pessoas mais frágeis deveriam ser isoladas.
Esses cursos, provavelmente, são familiares para muitos aqui no Brasil. No entanto, algum tempo depois, especialmente depois de ter sido afetado pela doença e ter sido, inclusive, internado pela doença, o ministro britânico resolveu escutar o conselho de cientistas do seu país – existe um conselho constituído – e passou, então, a adotar medidas rígidas, medidas importantes de lockdown, de limitação da circulação de pessoas e de funcionamento de diversos segmentos da economia.
Desde então, o Reino Unido atravessou períodos de alguma flexibilização e foi obrigado a voltar à estratégia de lockdown, na medida em que houve recrudescimento da epidemia. Diversas cidades daquele país estão a 200, 300 dias com restrições importantes à circulação de pessoas e nem por isso a economia daquele país foi à bancarrota; pelo contrário, vem sendo, atualmente, nos últimos meses, um dos grandes exemplos de enfrentamento da epidemia, com redução progressiva da incidência da doença, número de mortos e, agora, já em recuperação progressiva e controlada de atividades das pessoas e atividades da economia.
No Brasil, nós tínhamos um sistema instalado. Esse que aparece no estudo da Johns Hopkins reflete o que era a preparação do Brasil para a epidemia. E eu vou descrever sucintamente o significado disso.
Nós temos, em primeiro lugar, o Sistema Único de Saúde, um dos poucos países ou o único país com esta dimensão de mais de 100 milhões de habitantes com um sistema público dessa magnitude, de acesso universal, capilarizado, que, portanto, dá acesso a pessoas dos mais diferentes locais do país à atenção à saúde. Qual é a importância disso? Em qualquer lugar deste País que alguém apresente sintomas, esse alguém pode ser captado pelo serviço de saúde, pode ser diagnosticado, tratado e orientado e podem ser adotadas, em consequência, medidas de controle a partir daquela localidade, seja o Município, seja a vila mais remota deste País, particularmente, com a existência da estratégia de Saúde da Família, onde equipes de profissionais atuam no território, conhecem as pessoas e são conhecidas pelas pessoas, conhecem a maneira como se organizam os serviços, o comércio, o ambiente, o saneamento das suas áreas de atuação.
É um país que tem um sistema nacional de vigilância em saúde e que estabeleceu, ao longo dos anos – vou lembrar aqui uma referência – os seus planos de emergência e planos de contingência. Nós temos, desde 2014, um plano mestre para resposta em emergência de saúde pública neste País e vários planos específicos. Falo isso com certa tranquilidade, porque tive a oportunidade de estar envolvido na confecção e na coordenação do trabalho de elaboração desses planos quando estive no Ministério da Saúde naquele período. Esses planos... Qual é o sentido deles? É que justamente diversas coisas estejam pensadas previamente para quando da ocorrência de uma crise. Posso citar exemplos: no momento de crise, em que há necessidade de resposta, é preciso comprar insumos emergencialmente. É apenas um exemplo. Quando... O Senador Humberto foi Ministro, tive a honra de conviver com ele naquele momento e de integrar a equipe do ministério, e sabe do que eu estou falando aqui com muita propriedade. Quando, no momento de uma crise, se identificar: "Precisa comprar um medicamento tal", então isso passa por um período de definição de qual é o medicamento, definição técnica, especificação, elaboração de edital, passagem pelo jurídico etc. etc., até que se consiga, enfim, lançar uma compra emergencial ou uma licitação, qualquer coisa nesse sentido, para adquirir o medicamento. Quando há preparação, tudo isso deve ter sido aprontado previamente. Então, está lá pronto o edital, está lá pronta a especificação do medicamento adequado para cada uma das crises que podem surgir. Então, isso tem um significado enorme quando se trata de velocidade. E, em geral, se a gente fala de epidemia, a gente fala de velocidade, a gente fala de pressa para resolver as coisas.
Então, o Brasil tinha isto: planos de emergência, planos de contingência específicos.
O Brasil tem uma Agência Nacional de Vigilância Sanitária organizada. Isso significa a possibilidade de medidas necessárias nos pontos de entrada do País, nos pontos de circulação, medidas em relação a produtos, à organização de serviços, para verificação da garantia de segurança para os profissionais de saúde, segurança dos equipamentos como estes que a gente está utilizando, indicação de quando deve ser usado ou não deve ser usado, orientação à população quanto à sua proteção.
Temos uma rede de laboratórios de saúde pública, uma rede de laboratórios de pesquisa preparada para responder à emergência de saúde pública também. Temos laboratórios de produção de medicamentos invejáveis no mundo, laboratórios públicos de produção de medicamentos. Estamos entre os poucos países de baixa e média renda – somos de média renda nessa classificação – que têm esse tipo de estrutura.
O Programa Nacional de Imunizações, que vai completar seus 50 anos de vida, também é tido como exemplar no mundo inteiro. É um programa que oferece todas as vacinas do calendário sugerido pela Organização Mundial da Saúde de forma gratuita a toda a população, atingindo todas as faixas etárias.
Temos planos específicos, como o treinamento de epidemiologia em serviço de saúde, o EpiSUS, já completando 20 anos. Apenas mencionando a existência desse programa, nesse momento estamos aqui, na nossa organização Fiocruz, formando 800 pessoas em especialização em Epidemiologia de Campo para respostas à epidemia. Temos estruturas de formação, tanto no aparelho universitário, como nas instituições próprias de Governo. A Fiocruz, onde eu trabalho – não represento aqui institucionalmente, estou como pessoa física, mas onde eu trabalho –, me traz orgulho pelo seu desempenho nesse campo, a universidade aberta do SUS, uma estrutura de comunicação que sempre conseguiu se colocar frente às crises do campo da saúde pública.
E, no entanto, com tudo isso, o que nós vimos, desde o início da crise, foi a existência de um plano, a existência de uma coordenação nacional de resposta à pandemia. Trago isso para explorar esta contradição entre aqueles dois estudos que citei inicialmente: o do Brasil como liderança e o do Brasil em último lugar na resposta à pandemia.
Então, o que poderíamos ter tido desde o início? Em primeiro lugar, a presença do Estado, naturalmente. A presença do Estado como? A presença do Estado com um plano de contenção – era a ideia inicial, antes de a epidemia entrar no Brasil. Isso significava uma preparação não apenas para as chamadas barreiras sanitárias, de muito baixa eficácia para doenças que têm portadores assintomáticos, mas, especialmente, para detecção rápida, para testagem, para isolamento, para rastreamento de contatos. Nós tínhamos experiência para fazer isso no nosso Sistema Único de Saúde em diversas doenças. Sarampo é um dos grandes exemplos, mas temos muitas doenças de natureza semelhante, de transmissão respiratória, que conseguimos controlar na nossa história.
Esse plano deveria prever uma organização, então: de que maneira o sistema de saúde deve funcionar para responder à epidemia? Um plano, naturalmente, tem que conter um planejamento em relação a insumos. Então, aquilo a que a gente assistiu... "Olha, falta oxigênio, falta kit de intubação, faltam profissionais etc.!" Vai faltar tudo se não houver plano. Um plano prevê necessariamente o seu monitoramento. Nós estávamos acostumados a trabalhar com isso em diversas crises com a constituição de um Comitê de Operações de Emergência em Saúde, o Coes, acompanhando as respostas e necessidades de cada Estado e de cada Município.
Trago, para o meu orgulho, no currículo, digamos assim, a experiência – e a experiência em si não é feliz no campo da saúde pública nunca – de um resultado positivo no enfrentamento da epidemia de zika, que aconteceu há poucos anos, cinco anos atrás, em que o Brasil foi o epicentro de uma emergência em saúde pública de importância internacional. Naquele período, se constituíram os mecanismos de gestão, planejamento, comunicação e organização, que conseguiram colocar o conjunto das forças da saúde e das forças do Poder Público e, inclusive, privado – houve cooperação privada naquele momento – com objetivos comuns. Então, tínhamos o nosso Coes funcionando com um comitê executivo, digamos assim, para cuidar dos assuntos operacionais da crise. Tínhamos o GEI, que é o Grupo Executivo Interministerial, que existe por força de dispositivo legal; é um dispositivo de emergência em saúde pública que reúne quase todo o conjunto dos ministérios dessa Esplanada, com as suas diferentes atribuições. Tínhamos, então, coordenação dentro da saúde, coordenação interministerial e coordenação nacional.
Naquele momento, funcionou um gabinete de crise e uma coordenação operacional, com a sala de controle nacional funcionando, com o apoio da Defesa Civil nacional, que se comunicava continuamente com todos os Estados, onde se instalaram também salas de controle estaduais e salas de controle em cada uma das capitais brasileiras, ou seja, trata-se de uma estrutura de coordenação, coisa que nós não vimos acontecer neste período, senão para caçar responsabilidade do próprio Ministério da Saúde, na medida em que se constituíram grupos fora do Ministério da Saúde para cuidar da crise.
Tampouco tivemos o planejamento da resposta social e da resposta econômica. O que significaria isso? Criar formas de permitir às pessoas que adotassem as medidas de isolamento físico, particularmente um auxílio emergencial substancial que fosse mantido. Apenas lembro que este Congresso Nacional aprovou um valor bastante superior àquele que era proposto pelo Governo inicialmente no ano passado e conseguiu mantê-lo até o final do ano passado. Entre janeiro e abril, não houve qualquer tipo de auxílio; houve, ao contrário, o estímulo pra que as pessoas trabalhassem e retomassem suas atividades normais. Em seguida, um auxílio de valor insuficiente pra manutenção das pessoas, que lhes permitisse qualquer medida de isolamento.
Tampouco tivemos algum plano na área econômica pra reorganizar o funcionamento dos diferentes segmentos à realidade da pandemia, desde a produção de insumos específicos necessários pra resposta à epidemia até a reorganização de trabalho em empresa, de forma que as pessoas fossem estimuladas a trabalhar em setores que necessitavam. Nós vimos aí muitos exemplos citados na imprensa, ao longo desse tempo, de segmentos que cresceram, cresceram de forma espontânea, sem apoio oficial, sem articulação, de forma que este crescimento significasse geração de emprego, significasse algum tipo de suporte às pessoas e distribuição de renda.
E mais especificamente, o plano de imunização que tivemos é um plano pífio, é um plano que não entra nos detalhes necessários pra um plano de imunização que deve existir no País. E, mais uma vez, assim, sinto-me à vontade, porque, no departamento que eu cuidava no Ministério da Saúde, encontrava-se a Coordenação-Geral do Programa Nacional de Imunizações. Não tivemos, por exemplo, critérios homogêneos definidos para o Brasil inteiro, de forma que ficou a cargo de cada Estado e de cada Município definir seus próprios critérios. O que pode parecer democrático, um sistema descentralizado, mas, frente a uma epidemia dessa natureza e com a escassez de recursos que temos, isso deixa de ser democrático pra produzir iniquidades, na medida em que é difícil para os gestores locais ou mesmo para os estaduais gerenciar diferentes expressões e diferentes critérios pra adoção de prioridades pra vacinação. Não tivemos sequer um plano pra aquisição dos imunobiológicos. Então, assistimos estarrecidos a um desestímulo oficial a que um grande laboratório nacional assumisse a produção de vacinas.
Certamente o cenário teria sido muito diferente se houvesse uma política oficial não apenas de busca da compra de imunizantes, mas de busca de articulações e de acordos para a produção nacional. Certamente o Instituto Butantan poderia ter agido mais rápido e com mais pujança, com uma produção mais relevante e possivelmente até mesmo acelerando os seus estudos.
Assistimos, esses dias, aos debates sobre o que aconteceu em relação à vacina da Pfizer. Pouca coisa foi mencionada em relação à vacina da Janssen, uma vacina importante, empresa esta que realizou estudos clínicos no Brasil; sem que, no entanto, houvesse qualquer negociação, de que houvesse uma contrapartida desses estudos na forma de priorização do fornecimento de vacinas para o Brasil.
Não assistimos, então, a nada que se parecesse com uma negociação. Não vimos a atuação da diplomacia, ao contrário, parece que, pelas informações que são divulgadas, a diplomacia funcionou no sentido inverso, pelo menos no caso das vacinas de países que eram extremamente próximos do Brasil, como os Brics, particularmente a relação com a China.
Não tivemos a implantação de um sistema de informação específico em tempo hábil e isso seria fundamental para organizar a imunização, especialmente com a quantidade de variedades de vacinas diferentes, com tempos diferentes, eventualmente com indicações ligeiramente diferentes.
Não tivemos treinamento – isso é uma coisa inédita praticamente no Brasil –, implantação de uma vacina nova sem o treinamento específico para que isso acontecesse.
Não tivemos investimento na atenção básica, que é o ponto do sistema de saúde mais fundamental para resposta a maior parte das epidemias. Nós temos perdido gente na atenção básica, perdido agentes comunitários de saúde, perdido médicos, apenas... Nem precisamos lembrar disso, do fim do Programa Mais Médicos, perdido enfermeiros, perdido outros profissionais; então, os profissionais que já estavam sobrecarregados antes desta crise foram insuficientes para qualquer tipo de resposta excepcional.
Não tivemos comunicação. Não me lembro, talvez alguém se lembre, posso citar como exemplo, algum tipo de campanha nacional, seja para orientação quanto a conduta das pessoas para se proteger, fosse especialmente para dizer o que é a vacina. Por que duas doses? Quem deve tomar? Qual é a ordem? Então, com isso, tivemos um sistema desorganizado que respondeu apenas pelo acúmulo anterior que ele tinha, sem protocolos operacionais, sem formação das pessoas para evitar perdas de vacinas, sem anotação adequada, sem que os profissionais estivessem preparados para orientar as pessoas.
Acho que vários aqui receberam a vacina, eu até perguntaria: Quantos, quando receberam a vacina, forem orientados adequadamente para a data do retorno e para a importância deste retorno para receber a segunda dose?
E tampouco para que se evitassem erros. Tivemos certamente perda de vacina, podemos ter tido troca de vacinas, assistimos a notícias variadas quanto a vacinas administradas de maneira equivocada, então, tudo isso poderia ter sido evitado, poderíamos estar num outro patamar.
Alguns estudiosos, aqui eu vou citar o pneumologista Pedro Hallal, chegaram a estimar o número de mortes que poderiam ter sido evitadas caso algumas dessas coisas, não precisariam nem ter sido todas, algumas dessas coisas tivessem sido realizadas, e são dezenas de milhares de mortes, e, digo mais, em estimativas conservadoras. Por quê? Os cálculos que ele fez foram baseados em médias populacionais. No entanto, nós sabemos que a vacinação obedece a um calendário com prioridades. Então, se esses cálculos tivessem sido feitos com um desenho que olhasse para os grupos etários mais elevados e para as pessoas de risco, certamente o impacto seria ainda maior, porque são justamente aqueles grupos que tendem a ter uma letalidade maior quando afetados pela doença.
E, por fim, quero dizer aqui que fico muito impressionado e acompanho a impressão traduzida por um estudo da Faculdade de Saúde Pública que foi reeditado recentemente – sei que foi entregue aqui a esta Comissão Parlamentar de Inquérito, da Faculdade de Saúde Pública de São Paulo –, em que esta aparência de inexistência do plano talvez revele muito mais: revele a existência de um plano, de um plano que parou em março de 2020 quando alguns, felizmente poucos, líderes internacionais acreditaram que o melhor caminho para vencer a crise era que a doença se espalhasse rapidamente, e quem tivesse que morrer, morreria, e quem sobrevivesse continuaria tocando a economia, como se diz. Morreriam provavelmente os mais frágeis, desonerando a previdência, desonerando serviços de saúde, ou seja, do ponto de vista econométrico, poderia ter-se até um acontecimento positivo. Então, aquilo que foi chamado de produção de imunidade de rebanho, termo que eu assinalo de que não gosto... Nós não somos rebanho, e não existe nenhum coletivo da palavra "pessoa" ou "gente" que seja traduzido como rebanho. Nós temos diversos: temos multidão, povo, temos muitos coletivos nos nossos dicionários, e rebanho não é um deles. Rebanho se aplica a animais, e fomos tratados dessa forma. Acredito que a população brasileira tem sido tratada dessa forma ao se tentar produzir imunidade de rebanho às custas de vidas humanas.
Infelizmente o Governo brasileiro se manteve na posição de produzir imunidade de rebanho – com essa conotação toda – para a nossa população, ao invés de adotar as medidas reconhecidas pela ciência para enfrentar esta crise.
Bom, eu encerro por aqui. Fico à disposição.
Agradeço muito a oportunidade.
( da redação com informações de assessoria. Edição: Genésio Araújo Jr)

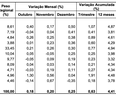

/https://s3.regiopolis.cloud/images/66743/a119797739c50b87e768f7be58ddde25bd2.png?name=fgv-divulga-dados-do-incc-m-de-dezembro.png)

